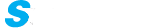-
FILIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
-
PESQUISAS E ÍNDICES
-
PROJETOS
-
JURÍDICO
-
BANCO DE CURRÍCULOS REFERENCIADO
-
EVENTOS
-
DOWNLOADS
-
LINKS
Sexta-feira
VALOR ECONÔMICO
Ofertas de ações em ‘modo espera’ pelas eleições alcançam R$ 25 bi
Um número relevante de companhias tem se preparado para fazer oferta de ações logo que o cenário eleitoral for definido. Se todas as empresas brasileiras que estão contratando assessores financeiros e jurídicos para ofertas iniciais (IPOs) e subsequentes (“follow-ons”) depois das eleições se concretizarem, será uma avalanche da ordem de 20 ofertas entre o fim de 2018 e de 2019.
Conforme levantamento feito pelo Valor com bancos de investimento, escritórios de advocacia e empresas, isso representa um volume da ordem de R$ 25 bilhões. Os bancos BMG e Agibank, as empresas de tecnologia e serviços Tivit, Movile e Neoway, as elétricas Neoenergia, Light e Equatorial, a resseguradora Austral Re, a holding seguradora Caixa Seguridade, a mineradora Vale e a varejista Quero Quero são algumas das empresas na lista de IPOs e follow-ons previstos para essa reabertura do mercado de ações. Duas fontes incluem o grupo de infraestrutura Invepar nessa lista. “Vinte é um número razoável de ofertas para um período de 14 meses após a eleição. Pode ser até mais que isso”, diz Eduardo Miras, chefe do banco de investimentos do Citi Brasil.
Segundo o executivo, houve uma mudança no ritmo das empresas desde agosto. “Depois de uma esfriada no fim do primeiro semestre, o diálogo com as empresas para acessar o mercado se intensificou bastante nos últimos dois meses”, afirma. Uma das questões principais é a proximidade com a data das eleições presidenciais e estaduais e a interpretação sobre as pesquisas eleitorais.
Há três meses, nem os nomes dos candidatos estavam definidos e, há dois meses, pouco se sabia sobre sua força de atração de voto — o que aumentava a invisibilidade de empresas e investidores sobre o potencial desfecho nas urnas. “A cada pesquisa, fica claro como o mercado reage a esse ou àquele candidato, e as empresas e investidores se preparam para isso, independentemente de suas preferências partidárias”, diz o chefe de um banco de investimento brasileiro, que prefere não ser identificado.
“No fim das contas, o que o investidor quer saber é se o novo patamar de câmbio é R$ 4 ou não, por exemplo”, complementa. Para Eduardo de la Peña, diretor da área de mercado de capitais do Credit Suisse, a principal questão é a redução de incertezas. “O mercado não gosta de incertezas porque fica difícil traçar cenários, ter percepção do risco e, consequentemente, há falta de disposição para teses novas de investimentos”, diz o executivo.
“Quando a incerteza está fora do tabuleiro, os investidores decidem se estão dispostos a tomar aquele risco específico.” Para dois bancos e dois escritórios de advocacia, como a alocação atual de investidores estrangeiros em ativos brasileiros é baixa, o caminho é de crescimento de aportes. O impacto da definição do candidato eleito se daria na velocidade com que essa volta ao Brasil aconteceria, o que influencia o ritmo de ofertas de ações. “Num cenário positivo, empresas financeiras e de consumo atraem os investidores, enquanto num cenário mais defensivo, consumo atraem os investidores, enquanto num cenário mais defensivo, empresas de saúde e de energia tendem a atrair demanda”, afirma André Rosenblit, responsável pela área de renda variável do Santander.
Nas contas do Santander, são esses cenários que vão definir o espaço que, no mapeamento do banco, indica 30 ou 10 IPOs de empresas brasileiras, conforme o cenário nacional e externo em 18 meses. Para as instituições, um volume maior de IPOs no início do ano pode acontecer porque, além das operações que já foram adiadas em uma primeira tentativa, há uma “janela” maior para ofertas com resultados no terceiro trimestre, segundo o Credit Suisse.
“As companhias podem usar os números do terceiro trimestre para ofertas de novembro a fevereiro”, diz De la Peña. A percepção dos bancos é semelhante a do escritório Mattos Filho. “Tem muita oferta represada. Foram quase três meses de calmaria, sem andamento de processos, mas a perspectiva mudou muito recentemente”, diz Vanessa Fiusa, sócia de mercado de capitais do Mattos Filho. “Tem muita empresa se organizando para estar com tudo pronto imediatamente após a eleição e sair com as ofertas principalmente no início de 2019.”
O banco gaúcho Agibank, que suspendeu a operação em junho, prefere fazer a operação ainda este ano — o concorrente mineiro BMG quer tentar fazer antes, ou seja, também pode sair ainda em 2018. Empresas que precisam fazer oferta para dar saída a acionistas, como Neoenergia (IPO) e Light (follow-on), devem ficar para o primeiro semestre de 2019, por diferentes motivos. “No caso da Light, não vai sair negócio de empresa de controle estatal antes da definição da eleição e posse dos novos governos”, diz um executivo.
“Quem vai investir ali sem saber a linha do governador de Minas?”, questiona, referindo-se ao acionista controlador da elétrica, a estatal mineira Cemig. Citada por alguns assessores de operações, a oferta inicial da Caixa Seguridade também é diretamente dependente do governo eleito, apontam as fontes — o que empurraria uma oferta, se for em 2019, para o segundo semestre.
A empresa de tecnologia e análise de dados Neoway começou a contratar bancos e se preparar para uma oferta de ações em 2019, com listagem dupla na B3 e na Nasdaq. A empresa de meios de pagamento Stone e a dona de aplicativos Movile pretendem fazer oferta de ações somente nos Estados Unidos. A Movile é dona, por exemplo, do aplicativo de entrega de refeição iFood e do aplicativo de eventos Sympla. A decisão da oferta será tomada pela acionista Naspers.
A gestora de participações Vinci Partners também pretende fazer uma oferta pública de ações da resseguradora Austral Re no ano que vem, conforme uma fonte. A gestora tem conversado com o banco Brasil Plural para uma fusão de suas operações de resseguros — a do banco é a Terra Brasis Resseguros. O IPO seria um segundo passo para a companhia após essa operação, já que a companhia precisa aumentar de tamanho, conforme uma fonte.
Outras gestoras de private equity, como Carlyle, GP Investments e Advent, também podem retomar ofertas de empresas de seus portfólios. Algumas das companhias da lista estão buscando soluções privadas e têm o mercado de ações como alternativa, caso não haja transação direta. É o caso da Invepar, que opera o aeroporto de Guarulhos e o Metrô Rio, entre outros. Os acionistas (fundos de pensão e a construtora OAS) negociaram com o fundo árabe Mubadala e com a canadense Brookfield, mas não saiu negócio. “Bancos têm sondado e a companhia considera a possibilidade de IPO. Mas acho difícil”, considera uma fonte próxima à Invepar.
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) também tenta achar um comprador para sua participação na Via Varejo, de eletroeletrônicos. Mas, conforme duas fontes, pode optar por um follow-on em 2019 se a venda não sair no médio prazo. O GPA diz que “o processo de alienação da Via Varejo está em andamento”, sem citar venda ou oferta. Segundo os bancos, ofertas maiores nesse momento de mercado tem maior probabilidade de sucesso por questões técnicas. Investidores institucionais preferem ofertas acima de US$ 500 milhões, para garantir liquidez ao papel.
Mas esse número fica cada maior no caso brasileiro, devido ao câmbio. Para isso acontecer, haveria uma diluição grande, com venda de controle, o que os empresários normalmente não querem fazer no primeiro acesso ao mercado”, diz Vanessa, do Mattos Filho. Por isso, um volume razoável considerado hoje pelos estrangeiros para liquidez de companhias brasileiras é acima de bilhão. “São ofertas entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, em média, então estamos falando de uma perspectiva da ordem de R$ 25 bilhões em volume”, diz Marcelo Millen, responsável pela área de mercado de capitais para renda variável do Citi Brasil.
Apesar do reaquecimento gradual nos preparativos de ofertas, as empresas ainda não estão nem perto da fase de precificação. “Não adianta falar com o comprador quando ele não quer comprar”, afirma Millen. A ponta compradora, de fato, ainda está em compasso de espera. “Não dá para colocar preço em ativo novo hoje, mas tem dinheiro parado para aumentar participação em bolsa”, afirma o gestor de uma carteira de mais de R$ 4 bilhões em ações. Questionados, Citi, Credit Suisse, Santander e Mattos Filho não falaram sobre empresas ou ofertas específicas.
Risco de governabilidade após eleição pode afetar rating, diz agência
A nota de crédito do Brasil vai depender do resultado das eleições e da capacidade de articulação dos eleitos para endereçar os desafios do país, avaliam duas das principais agências globais de classificação de risco. Fitch e Moody’s veem a maneira como o novo governo vai encaminhar a questão fiscal como crucial para determinar se haverá retomada ou deterioração da economia. A novidade na análise divulgada nesta quarta-feira é que as classificadoras ressaltaram a importância de um componente até então apenas citado nessa equação do vai ou não vai: a relação que o próximo presidente terá com o Congresso.
Para a Fitch, um Congresso fragmentado e potenciais dificuldades para formar uma coalizão legislativa viável acrescentariam mais incertezas para o novo governo. A agência destaca ainda que candidatos pertencentes a partidos menores estão liderando as pesquisas e podem ter mais dificuldade em trabalhar com um novo legislativo.
A Moody’s exibiu uma visão mais pessimista para o desfecho do pleito. No cenário base para o próximo governo no Brasil, a agência desconsidera a aprovação da reforma da Previdência abrangente e projeta alterações na lei do teto de gastos.
Segundo a agência, devido à polarização política, independentemente de quem vencer a eleição, o novo governo vai enfrentar desafios para “estabelecer uma relação harmônica com o Congresso, que lhe permita efetivamente governar”. As eleições no Brasil serão cruciais para determinar o ritmo, a escala e a natureza das futuras reformas fiscais e estruturais.
Segundo a Fitch Ratings, a continuada falha em endereçar as questões ficais, levando a um rápido crescimento da dívida pública, seria um fator negativo para a nota de crédito do Brasil. Da mesma forma, a deterioração no mercado doméstico ou das condições de acesso ao mercado externo pesariam sobre os ratings soberano do país.
A Fitch rebaixou a classificação de risco do Brasil em fevereiro, de “BB” para “BB-“ e revisou a perspectiva de negativa para estável. Segundo a Fitch, sem reformas sustentadas, os déficits fiscais continuarão altos e a dinâmica desfavorável da dívida pública pesará ainda mais na confiança e na atividade. “Os resultados da eleição definirão o cenário de médio prazo para as políticas econômica e fiscal, com vários candidatos presidenciais em todo o espectro político defendendo marcadamente variada plataformas”, aponta a Fitch.
De acordo com a Fitch, o grande déficit fiscal e o aumento do endividamento em meio a uma recuperação morna da economia limitarão seriamente a flexibilidade política do novo governo. Ao mesmo tempo, a perspectiva das reformas estruturais para ampliar o crescimento permanecem incertas. “A abordagem do governo para enfrentar os desafios fiscais estruturais será a chave para a trajetória de médio e longo prazos dos déficits e dívidas soberanas”, aponta.
Nesse sentido, a reforma da Previdência está, segundo a Fitch, entre as políticas mais importantes a serem tratadas, pois representa mais de 40% gastos primários. A consolidação de programas sociais, alteração da fórmula de crescimento do salário mínimo e a revisão de outros gastos obrigatórios também serão importantes.
Para o vice-presidente sênior da Moody’s Gersan Zurita, apesar da visão de que o mais provável é que o próximo governo enfrente desafios, a agência enxerga existir possibilidade de o novo governo estabelecer “uma relação funcional com o Congresso que possa levar à aprovação da reforma previdenciária, que dê suporte a uma consolidação fiscal e impulsione a confiança do investidor”.
A Moody’s cita dois cenários possíveis para a próxima administração federal: o de continuidade política, com um novo presidente capaz de trabalhar com o Congresso e de retomar o ritmo de reformas fiscais, e o de ruptura política, com um novo governo que não consiga estabelecer uma relação funcional com o Congresso e não consiga seguir adiante nas reformas.
No pior cenário, “caso o próximo governo não seja capaz de retomar as reformas, dinâmicas fiscais adversas provocarão volatilidade nos mercados financeiros e reduzirão a confiança do investidor, prejudicando a recuperação econômica. Um círculo negativo fiscal e macroeconômico levará a uma aceleração no ritmo de acumulação de dívida maior do que o considerado em nosso cenário-base”, concluiu a agência.
Em relação a um desfecho mais positivo do ponto de vista de relação com o Congresso e seguimento da agenda de reformas, “as condições de crédito provavelmente se manteriam fortes, sustentando o investimento em infraestrutura na média histórica, ou levemente acima, de 3% do PIB ao ano”.
Câmbio foi movido pelo cenário externo, aponta estudo do Ibre
A desvalorização do real neste ano está relacionada principalmente a fatores externos, e não às incertezas causadas pelas eleições, segundo estudo do economista Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Na visão de Castelar, o comportamento do câmbio no Brasil tem seguido uma tendência semelhante à de uma cesta de moedas de países emergentes em relação à moeda americana. Isso sugere que a trajetória do real está muito mais ligada a uma mudança do cenário internacional, ocorrida a partir do segundo trimestre.
A comparação do Ibre usa uma cesta de moedas de México, China, Taiwan, Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Índia, Israel, Arábia Saudita, Rússia, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia, além do próprio Brasil. A partir de meados de março, as moedas dos emergentes tiveram uma depreciação forte, movimento que não se restringiu ao real, destaca Castelar, coordenador de economia aplicada do Ibre/FGV.
Ocorreu antes da greve dos caminhoneiros, iniciada em maio, e do posterior enfraquecimento do governo Michel Temer, observa ele. Em apresentação na sede do Valor, Castelar ressaltou que a "desvalorização do real é de quase três vezes a desvalorização da média ponderada das moedas dos países emergentes, mas a dinâmica é bastante semelhante". A moeda brasileira oscila mais em razão da maior liquidez do mercado brasileiro. Castelar enfatiza a mudança no cenário internacional a partir do segundo trimestre do ano.
"Câmbio e risco-país sempre andam muito juntos. Os anos de 2016 e 2017 foram muito bons para os emergentes. O risco-país do Brasil na virada de 2017 para 2018 estava mais ou menos onde estava quando tínhamos o grau de investimento", lembra ele. "O ano virou com otimismo tanto em relação ao cenário externo quanto ao doméstico, com expectativa de crescimento de 3% para o PIB."
O risco Brasil e o risco dos emergentes medidos pelo contrato de swap de default de crédito (CDS, na sigla em inglês, uma espécie de seguro contra calotes) de cinco anos mostram evolução semelhante entre si, destaca o economista. "Desde janeiro de 2016, houve uma evolução muito favorável para o risco dos emergentes, mas no mesmo período que virou para o Brasil virou para o resto dos emergentes", diz o economista. "Se tivesse virado por causa das eleições, seria muito difícil explicar por que todos os emergentes viraram mais ou menos na mesma época, com ritmo bastante semelhante ao do Brasil." Mesmo que haja questões nacionais de Argentina, Turquia, Brasil, Indonésia ou África do Sul, o comportamento do risco-país dos emergentes foi muito parecido, nota Castelar.
No Brasil, pondera ele, o risco país subiu um pouco mais em relação ao dos demais emergentes com a greve dos caminhoneiros, mas isso foi devolvido depois. "A diferença parece muito pequena para se atribuir o que acontece com o risco-país a algo específico ao Brasil, em vez de a todos os emergentes. Nesse sentido, acreditamos que haja atenção demais à incerteza eleitoral. Isso só aumentou nas últimas semanas, mas não aumentou o risco desde então."
Na virada de 2016 para 2017, recorda Castelar, as expectativas eram muito ruins por causa da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. "Mas acabou que foi um ano excelente para o mundo e para os emergentes. Havia um risco político na Europa, eleições na França, se falava em acabar com o euro, logo na sequência do Brexit [a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia]. Também havia preocupação com a China, que acabou crescendo mais que a meta."
O ano terminou com o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevendo crescimento para quase todos os países do mundo. O cenário foi muito favorável aos emergentes durante quase todo o primeiro trimestre de 2018, com o dólar se enfraquecendo e as commodities subindo. Houve então a piora a partir do segundo trimestre.
Em abril, por exemplo, os juros dos títulos do Tesouro americano de dez anos atingiram 3% anuais pela primeira vez em quatro anos. Para os emergentes, houve uma deterioração no cenário internacional com a percepção de redução dos estímulos monetários, com os juros em alta nos EUA, por exemplo.
No fim do primeiro trimestre, houve também frustração com o ritmo de retomada fora dos Estados Unidos. "Os números da Europa decepcionaram e a desalavancagem financeira da China começou a se refletir um pouco mais em termos de atividade. Também começou a guerra comercial e uma grande expectativa de que isso pudesse enfraquecer o crescimento."
O diferencial de crescimento entre os EUA e a Europa ajudou a fortalecer o dólar, diz o economista. A repatriação de lucros incentivada pela reforma tributária americana colocou cerca de US$ 1 trilhão nos Estados Unidos, o que também elevou a demanda pela moeda americana. "O resultado foi um dólar que subiu muito num momento de aversão ao risco de emergentes." Nas últimas semanas, porém, o humor externo mudou um pouco.
Nos EUA já um debate sobre se o que o Fed indica que fará está totalmente embutido nos preços. De qualquer forma, o dólar mais forte deve baixar o preço dos bens industriais nos Estados Unidos, e ficou mais claro que a batalha comercial dos EUA está centrada na China, não sendo algo generalizado, diz ele. Há, com isso, a possibilidade de que o pior para os emergentes tenha ficado para trás, pelo menos no curto prazo.
Crise de emergentes preocupa mais que perspectiva para juro nos EUA, diz Senna
Os problemas enfrentados pela Argentina e pela Turquia causam maior preocupação para um país como o Brasil do que as perspectivas para os juros básicos e para as taxas de longo prazo dos EUA, avalia o economista José Julio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Para ele, a "encrenca" nesses dois emergentes é "gigantesca", e não vai se resolver tão cedo.
Ao mesmo tempo, o quadro para a política monetária americana é mais tranquilo, avalia Senna, ex-diretor do Banco Central (BC). O economista tem uma visão bastante benigna sobre o panorama para os índices de preços nos EUA. "A inflação americana não assusta", resume ele. A trajetória dos núcleos, que buscam eliminar ou reduzir a influência dos itens mais voláteis, segue sem preocupar e as expectativas inflacionárias estão bem ancoradas.
Senna observa ainda que os salários têm crescido a um ritmo um pouco mais forte, mas o custo unitário do trabalho, que leva em conta produtividade, continua comportado. Senna tampouco acredita que o impulso fiscal nos EUA, causado principalmente pelo corte de impostos promovido pelo presidente Donald Trump, terá efeitos significativos sobre a inflação.
De acordo com estimativas do banco Goldman Sachs, o impacto fiscal perderá forças em 2019 e passará a contribuir negativamente para o crescimento do PIB a partir do começo de 2020, afirma. O ex-diretor do Banco Central também faz uma leitura tranquilizadora da estratégia explicitada pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, nos EUA, realizado no fim de agosto. Senna diz que Powell encampou o enfoque sobre "administração de risco" apresentado em 2003 também em Jackson Hole pelo então comandante do Fed, Alan Greenspan.
Em sua apresentação, Powell apontou dois erros a serem evitados - agir rápido demais a ponto de provocar uma recessão e atuar com lentidão excessiva, permitindo o superaquecimento da economia. Para Senna, "a afirmação parece neutra, mas não é". Powell está dizendo que o primeiro tipo de erro é mais sério, segundo ele. A conclusão é que a tendência do Fed é de evitar a todo custo um erro e apertar demais a política monetária, provocando uma recessão. Isso é positivo para emergentes como o Brasil, ressalta Senna.
O economista do Ibre também não vê motivos para dores de cabeça com a trajetória dos juros americanos de longo prazo. Um dos principais motivos é que os juros baixos na zona do euro e no Japão levam a uma demanda maior por títulos do Tesouro dos EUA, o que segura essas taxas, impedindo que elas subam com mais força.
Já a crise dos emergentes é uma fonte maior de preocupação para o Brasil, avalia Senna, enfatizando a situação complicada de Argentina e Turquia. Um dos principais problemas é que os dois países têm déficits em conta corrente muito elevados. Pelas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), o rombo das transações de bens, serviços e rendas com o exterior da Argentina deve ficar em 5,1% do PIB neste ano, enquanto o da Turquia deve atingir 5,4% do PIB.
Para comparar, o déficit em conta corrente do Brasil ficou em 0,76% do PIB nos 12 meses até julho. Senna também observa que o Argentina tem uma parcela expressiva da dívida pública denominada em dólares. No caso da Turquia, a dívida externa de curto prazo, de até um ano, é de quase US$ 120 bilhões, dos quais 80% estão nas mãos do setor privado. Em julho, as reservas do país em moeda estrangeira eram de US$ 77 bilhões.
Na visão de Senna, os números mostram como a situação desses dois países é difícil. "Não vamos nos livrar desses problemas tão cedo", afirma. Moedas de países emergentes se desvalorizaram significativamente neste ano.
Qual é a chance de o BC voltar a subir os juros?
Na sua última reunião antes das eleições, o Banco Central avisou que poderá subir os juros, se o cenário inflacionário ou os riscos no horizonte piorarem. Se isso de fato ocorrer, não será nenhuma novidade: foi preciso apertar a política monetária em três das quatro disputas presidenciais desde a adoção do regime de metas de inflação, em 1999. A exceção foi a reeleição de Lula, em 2006. Embora as incertezas políticas tenham um papel importante na possível alta da taxa Selic, não é apenas isso.
O aperto monetário nos Estados Unidos também tem atuado para pressionar a taxa de câmbio no Brasil, com efeitos inflacionários. Economistas que estudaram a fundo os principais determinantes da dinâmica recente do câmbio no Brasil chegaram à conclusão que os fatores externos são mais importantes que os domésticos na alta da cotação do dólar. Além disso, em algum momento o BC brasileiro teria mesmo que retirar - de forma gradual - os estímulos monetários, depois de cumprida a tarefa de levar a inflação muito baixa para as metas.
Até pouco tempo atrás, as projeções do BC indicavam inflação abaixo da meta de 2019 em vários cenários diferentes, o que tirava um pouco a urgência de subir os juros. Mas hoje os dados mostram uma convergência mais rápida da inflação para a meta, e o agravamento do risco de superá-la. O comunicado divulgado anteontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mostra que, se os juros seguirem nos atuais 6,5% ao ano e a cotação do dólar permanecer nos R$ 4,15 que esteve nos últimos dias, a inflação de 2019 ficará em 4,5%. Nesse patamar já supera a meta do ano que vem, de 4,25%.
Houve uma significativa piora na projeção de inflação desde a reunião anterior do Copom, de agosto. A variação projetada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2019 subiu de 4,1% para 4,5%, considerando os juros estáveis em 6,5% ao ano. O que pesou foi a alta do dólar no período, de cerca de 10%. Não apenas as projeções de inflação ficaram piores, o Banco Central hoje vê riscos maiores de que a inflação supere os percentuais previstos.
São dois os vetores principais: uma eventual alta adicional do risco Brasil provocada pela eleição de um presidente descompromissado com o ajuste fiscal; e uma eventual piora no cenário internacional ligada à alta dos juros nos Estados Unidos ou à guerra comercial desencadeada pelo governo Donald Trump. O chamado balanço de risco para a inflação tem apresentado uma trajetória desfavorável há vários meses.
Até março, o BC considerava que os riscos pendiam mais para o lado positivo (a inflação então muito baixa poderia adiar o cumprimento das metas), por isso chegou a indicar corte de juros abaixo de 6,5% ao ano. Em maio, quando as eleições e o cenário externo já haviam começado a pesar na cotação do dólar, o BC comunicou que o risco positivo havia se arrefecido e suspendeu o corte de juros. O BC disse, em junho, que os riscos negativos haviam se elevado. Em agosto, permaneceram estáveis em níveis elevados e, agora, pioraram mais uma vez.
Com a sinalização de que poderá subir os juros, o Banco Central fez o primeiro movimento concreto para tentar manter as expectativas de inflação sob controle. Alguns analistas econômicos entenderam que, embora o Copom tenha condicionado a alta dos juros à piora do cenário inflacionário ou do balanço de riscos, o aperto estaria encomendado, dada a evolução do cenário econômico esperada até a reunião do fim de outubro. O BC americano poderá trazer novas más notícias em reunião no dia 26 de setembro, e o quadro eleitoral não é favorável ao ajuste das contas públicas.
Outros economistas do mercado financeiro acham que é cedo para dizer que vai haver mesmo um aperto monetário em breve. Primeiro, porque não seria possível saber aonde a taxa de câmbio vai parar até fins de outubro. Isso dependeria de como os mercados vão reagir ao resultados das eleições e à evolução do cenário externo. A cotação do dólar de R$ 4,15 dos últimos dias poderá se mostrar exagerada.
Os mercados preveem uma queda a R$ 3,83 no fim deste ano e para R$ 3,75 no fim do ano que vem. Outro argumento comum no mercado para adiar o aperto nos juros é que a alta do dólar causa uma pressão apenas temporária na inflação. O Copom vem afirmando que a alta do dólar não representa uma aceleração inflacionária, mas um ajuste de preços relativos. Produtos importados devem ficar mais caros.
O Banco Central, nessas situações, só deveria agir se esse processo contaminar preços que não têm nada a ver com o dólar - por exemplo, os de serviços. Além disso, o impacto do dólar na inflação deve ser menor porque a economia opera com uma grande capacidade ociosa. Segundo essa linha de raciocínio, não haveria problema em a inflação de 2019 passar um pouco da meta, desde que no ano seguinte retorne ao objetivo. Ainda não se conhece a projeção de inflação do BC para 2020 para checar se o cenário inflacionário contempla essa alta apenas temporária da inflação. O dado será divulgado na semana que vem, no Relatório de Inflação.
Nos últimos meses, o Copom vem comunicando que vai acompanhar dois indicadores para checar se a pressão inflacionária do dólar não está saindo do controle: os núcleos de inflação e as expectativas de inflação do mercado financeiro. Até agosto, o BC vinha afirmando que os núcleos de inflação estavam baixos, o que significa que estavam rodando próximo do piso da meta. Agora, o BC diz que os núcleos estão "em níveis apropriados". Ou seja, queimou-se a gordura que poderia ajudar a amortecer o impacto do dólar.
As expectativas de inflação para 2019 e 2020 estão nas metas, mas o que se espera é que o Banco Central se mexa justamente para evitar que saiam do lugar. Além disso, o mercado tem demorado a acreditar no cumprimento da meta de 2021, de 3,75%. O desafio será evitar que a aceleração inflacionária que deverá ocorrer nos próximos meses coloque ainda mais pressão nos núcleos e nas expectativas. Em meados de 2019, a inflação poderá ter picos ao redor de 5%.
FHC faz apelo para união das candidaturas de centro
Em uma "carta aos eleitores e eleitoras" de pouco mais de 4 páginas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso alertou para o perigo de uma eleição polarizada entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) e, sem citar nomes, apelou para que presidenciáveis do centro, "que não apostam em soluções extremas, se reúnam e decidam apoiar quem melhores condições de êxito eleitoral tiver". Segundo o ex-presidente, "ainda há tempo para deter a marcha da insensatez".
Candidato apoiado por FHC, Geraldo Alckmin (PSDB) está em quarto lugar nas pesquisas. O apelo do ex-presidente é em favor de Alckmin e direcionado aos que estão logo atrás do tucano: Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo (Novo). FHC, entretanto, não menciona nomes no documento. Horas depois, no Twitter, procurou ser explícito: "Quem veste o figurino é o Alckmin, só que não se convida para um encontro dizendo 'só com este eu falo'".
Um entrave para viabilizar tal união é o fato de o terceiro colocado nas pesquisas ser Ciro Gomes (PDT), hoje eleitoralmente mais competitivo do que Alckmin. O ex-presidente afirma que é preciso romper "a radicalização dos sentimentos políticos" que seria representada pela atual polarização. "A gravidade de uma facada com intenções assassinas haver ferido o candidato que está à frente nas pesquisas eleitorais deveria servir como um grito de alerta", ressaltou FHC, em evidente referência a Bolsonaro, acusado na sequência de estimular uma pregação de ódio.
"Basta de pregar o ódio, tantas vezes estimulado pela própria vítima do atentado. O fato de ser este o candidato à frente das pesquisas e ter ele como principal opositor quem representa um líder preso por acusações de corrupção mostra o ponto a que chegamos", disse FHC, dessa vez referindose a Haddad. Na avaliação do ex-presidente, "ou se busca a coesão política, com coragem para falar o que já se sabe e a sensatez para juntar os mais capazes para evitar que o barco naufrague, ou o remendo eleitoral da escolha de um salvador da Pátria ou de um demagogo, mesmo que bem intencionado, nos levará ao aprofundamento da crise econômica, social e política", advertiu.
O aceno do ex-presidente foi recebido de maneira fria pelos destinatários. "Se o candidato do PSDB renunciar em favor de minha candidatura, eu aceito", comentou Henrique Meirelles, na entrada para o debate da TV Aparecida, em Aparecida (SP). "O PSDB só tem autoridade de propor conjugação de esforços se renunciar preliminarmente à sua candidatura", disse Alvaro Dias. Marina Silva (Rede) ironizou: "Ninguém chama para tirar as medidas com a roupa pronta", escreveu a ex-senadora em uma rede social, replicando o post de FHC.
O manifesto de FHC não foi um gesto isolado. Outra iniciativa de mesmo sentido mobilizou o aplicativo de mensagens WhatsApp (abaixo).
Manifesto que prega aglutinação de candidatos viraliza
Diante da crescente polarização da disputa presidencial, um manifesto em defesa de uma candidatura única de centro viralizou no WhatsApp de empresários, executivos e economistas, nos últimos dois dias. O texto, apócrifo, ganhou a rede social sem que os responsáveis por seu compartilhamento conhecessem a autoria dele. No início da noite de ontem, a reportagem identificou o cientista político e advogado Miguel Nicacio, de 38 anos, como seu autor. "Fazemos este apelo em defesa da liberdade de todos os brasileiros: chamemos nossos políticos do centro democrático à responsabilidade. Sra. e Srs.
Candidatos à Presidência da República, Marina Silva, Alvaro Dias, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e João Amoêdo, defendam nossa democracia, unindo-se em torno de uma candidatura única", diz o texto. Além dessa, outras iniciativas surgiram também nesta semana em prol de uma terceira via de centro. Um grupo de economistas mulheres, que inclui Elena Landau e Zeina Latif lançaram o manifesto "Mulheres não fogem à luta", no qual argumentam que as mulheres são a maioria da população e também a maioria dos indecisos e que, portanto, podem decidir a eleição.
"Devemos afastar candidatos que justificam a violência e propagam o preconceito. Não vamos eleger pessoas que nos vejam como cidadãs de segunda categoria", diz trecho do texto. O grupo fará um debate na segundafeira. Ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lançou um manifesto de quatro páginas (ver acima) em que conclama candidatos de centro a se reunir em torno daquele que reunir as melhores condições de vencer.
Antes mesmo que o ex-presidente quebrasse o silêncio, duas pessoas que compartilharam o manifesto apócrifo de Miguel Nicacio chegaram a dizer em conversa com o Valor que esperavam que FHC pudesse falar em prol de uma candidatura única. Um deles, o presidente de uma incorporadora, pediu para se manter anônimo.
O outro foi o jurista Miguel Reale Junior, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Reale Jr. chegou a ser apontado na tarde de ontem como um dos responsáveis por lançar o manifesto. "Fui um dos que aderiu e compartilhou e estou trabalhando para que essa aglutinação aconteça", disse, por telefone. Para o jurista, a união não precisa se dar em torno do candidato com maior intenção de votos nas pesquisas. "O critério não tem que ser quem tem mais votos, que é o Geraldo Alckmin, mas quem aglutinaria mais."
Ele não quis indicar uma preferência. Já João Nogueira Batista, ex-presidente da Suzano Papel e Celulose e membro de diversos conselhos de administração apontou o candidato do PSDB para o papel de aglutinador. "Como a maior dificuldade para essa aglutinação é o ego individual e de partidos, o Partido Novo deveria ser 'novo' na atitude e liderar a aglutinação em torno do que tem mais voto", disse.
Em conversa por telefone, Nicacio disse que a ideia de escrever o texto surgiu de uma conversa entre amigos, como Joana Barcellos, preocupados com o futuro da democracia no país. "Mais do que pedir a união em torno de candidatura única, é um chamado para se preservar a democracia", disse.
Nicacio contou que o texto foi escrito e compartilhado inicialmente na noite de segunda para terça-feira. "Não imaginava que ganharia essa repercussão", disse, visivelmente nervoso. "A sociedade brasileira, mas em particular a elite, que tem acesso a recursos, não entendeu o que envolve ser uma democracia, que resolve conflitos de forma pacífica", afirmou ele.
Nicacio foi pesquisador no Núcleo de Estudos Fiscais da FGV e no início do ano dirigiu por três meses o movimento Frente pela Renovação, que tinha como um dos apoiadores o Vem pra Rua. Nicacio diz não ser ligado ao Vem pra Rua. Joana Barcellos, a coautora do texto, apoia candidatos do Novo em sua página no Facebook. O grupo criou uma página no Facebook chamada #extremosnão, que ontem contava com pouco mais de 1,4 mil membros.
Bolsonaro seria um presidente desastroso, diz capa da ‘The Economist’
A capa da revista “The Economist” desta semana trata do candidato a presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PSL). A publicação analisa a eventual vitória do militar, apresentado como um “populista de direita”, como uma “ameaça” à América Latina e antevê uma atuação “desastrosa” de Bolsonaro no comando do país.
A reportagem afirma que, se eleito, Bolsonaro vai colocar em risco a democracia brasileira e será um desagradável reforço a uma lista de populistas pelo mundo, como Donald Trump nos Estados Unidos, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Matteo Salvini na Itália e Manuel López Obrador no México. A análise é que a situação de penúria do Brasil oferece terreno ao populismo.
Assim a “The Economist” descreve o cenário: “A economia é um desastre, as finanças públicas estão sob pressão e a política está podre. A criminalidade é crescente, sete cidades brasileiras estão entre as 20 mais violentas do mundo.” A revista cita pesquisas que apontam as palavras “corrupção”, “vergonha” e “decepção” como as mais usadas pelos brasileiros para definir o país. E diz que Bolsonaro soube explorar esse sentimento a partir do que veio à tona com a Operação Lava-Jato. O militar é descrito como alguém com um histórico de grosserias. São citadas falas dele sobre uma mulher que “não merece ser estuprada” por ser “muito feia” - a deputada Maria do Rosário (PT) -, sobre ele preferir um filho morto a um filho gay e sobre quilombolas serem “gordos” e “preguiçosos”.
A reportagem analisa que essa disposição de “quebrar tabus” do militar foi vista como um sinal de que ele era alguém diferente da política tradicional. A “The Economist” cita ainda o perfil liberal de Paulo Guedes, assessor econômico de Bolsonaro, e diz que o candidato foi “recentemente convertido” ao liberalismo econômico.
Na visão da revista, a facada em Bolsonaro, em atentado no dia 6 de setembro, e o consequente isolamento dele no hospital acabou servindo de escudo ao escrutínio da imprensa e dos adversários. Risco de ditadura A publicação relata também a “preocupante admiração pela ditadura” que tem Bolsonaro. E relembra que ele dedicou a um torturador brasileiro, Carlos Ustra, o voto no Congresso pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).
A revista traça um paralelo entre o que poderia ser um governo Bolsonaro e a ditadura de Augusto Pinochet, no Chile. Rememora que Pinochet também era aconselhado por economistas liberais e que avanços econômicos naquele país tiveram “custos humanos e sociais terríveis”.
A “The Economist” associa a falta de base parlamentar e partidária de Bolsonaro ao risco de, se eleito, ele optar por recorrer a medidas extremas em nome da governabilidade. “Muitas reformas ainda são necessárias no Brasil. Bolsonaro não é o homem capaz de prover isso”, conclui o artigo.
NOSSA MISSÃO
Representar e promover o desenvolvimento da construção civil do Rio Grande do Norte com sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental
POLÍTICA DA QUALIDADE
O SINDUSCON/RN tem o compromisso com a satisfação do cliente - a comunidade da construção civil do Rio Grande do Norte - representada por seus associados - priorizando a transparência na sua relação com a sociedade, atendimento aos requisitos, a responsabilidade socioeconômica, a preservação do meio ambiente e a melhoria contínua.